Caríssimo
Senhor Henry James
Escrevo-lhe ao chegar da tarde do primeiro dia de Primavera. O sol mostrou-se
em Lisboa com alguma timidez, mas apesar disso, rejubilamos. A casa está em
silêncio e é oportuno deixar-lhe estas linhas agora antes que os afazeres
diários me atropelem e perca esta possibilidade.
Tenho o seu livro na minha mesa de cabeceira há mais de vinte anos. Não sei
quantos exemplares já ofereci,
na verdade poucos, não conheço muitas pessoas
capazes de chegarem a esta elevação. Chamo-lhe elevação porque, de certa forma,
a “Fera”, como carinhosamente é conhecida aqui em casa, só ataca alguns e,
quando o faz, é de forma quase letal. Fica connosco. Podia ter na mesa de
cabeceira outros – e tenho – porém o seu livro, este livro, é diferente.
Serve-me como memória e espelha um exemplo. Todos os dias o encaro com desânimo
ou entusiasmo. Depende do que me acontece.
Quererá saber porquê. Sei que gosta de uma boa história e que é um ouvinte
treinado para as miudezas do mundo, essas que, porventura, utilizou para a
ficção e para a dramaturgia. Esqueçamos a dramaturgia? Certo, o fracasso nunca
é de louvar. Posso garantir-lhe que o desapontamento que sofreu nos palcos de
Londres e arredores, no seu tempo, não são verdades de hoje. Os seus livros
tornaram-se filmes, as suas peças encenam-se amiúde. Quer saber se o mesmo se
passa com Oscar Wilde? Vejo que o trauma permanece. Oscar Wilde, como quase
todas as figuras capazes de fugir ao padrão da época, era irresistível ao
grande público. Para si não o seria. Compreendo. Deixemos isso, então. Voltemos
à “Fera” e à razão que me leva a escrever-lhe.
Convivi estes anos todos com o seu John Marcher e a sua amiga, a senhora May
Bartram. Por vezes regresso à história deste desencontro e aprendo sempre
alguma coisa. Marcher serve-me de modelo: um homem que viveu a vida pela
metade, convicto de que estava destinado a algo maior, incapaz de amar e
reconhecer esse amor. “A solução teria
sido amá-la; então, e só então, ele teria vivido”, conclui quase no fim da
“Fera”. A pequena lombada que vislumbro da minha cama recorda-me que tenho de
estar atenta às coisas do mundo, à “expressão dos afectos” à minha volta, aos
que se aproximam e ficam. Se calha a sofrer do síndrome de Marcher, como lhe
chamo, penalizo-me de forma brutal. É fácil ser-se egocêntrico, viver na
permanente admiração do nosso umbigo. Perdoe-me, não será uma expressão do seu
tempo. Seja como for, vejo a “Fera” e tento redimir-me. Em vez de me encolher
na minha convicção de justiça e grandeza, procuro desfazer-me e estar
disponível. Não como May Bartram, repare, porque o excesso de amor não me
convêm. Ou melhor, não convêm a este século XXI. Nunca senti qualquer espécie
de piedade por May Bartram, sempre a considerei altruísta e magnânime nos seus
sentimentos, contudo demasiado contida para o meu gosto. Se fosse eu, teria
gritado o meu amor por Marcher, teria sofrido mais e a amizade terminaria,
estou certa. Quando li a sua história pela primeira vez, Senhor James, chorei e
continuo a chorar.
É-me incompreensível a ideia de paixão e
a sua conjugação com a frieza e a distância: como é que podem conviver no mesmo
tempo e espaço? Como é que gestos delicados e despojamento não são entendidos
como entrega total? O amor está em desuso. As relações entre as pessoas não
são, em nada, similares às do seu tempo. Há uma liberdade que nos é agradável e
uma quebra de regras de cavalheirismo que, decerto, teria dificuldade em
aprovar. Pouco importa, porque a sua “Fera” quando ataca um leitor dos dias de
hoje permanece com a mesma força de sempre. Espero que isso lhe traga algum
contentamento.
Passei a entender John e May de outra forma depois de ler “Autor, autor” de
David Lodge, um inglês, como o senhor. Sim, peço desculpa, o senhor pediu a
nacionalidade depois da Primeira Guerra Mundial como forma de solidariedade
para com os Aliados. Ao mesmo tempo, acredito que ser norte-americano não
estivesse de acordo com a sua natureza. Não sei porque lhe escrevo isto, se me
engano, peço desculpa. O livro de Lodge é-lhe dedicado. O senhor, tão discreto
e sedento da sua privacidade, não gostaria da biografia ficcionada que este
escritor imaginou, partindo apenas do pouco que se sabe. O livro começa com
duas epígrafes, uma delas sua, retirada do livro “Middle Years” e reza assim: “Trabalhamos no escuro – fazemos o que
podemos – damos o que temos. A nossa dúvida é a nossa paixão e a nossa paixão é
o nosso trabalho. O resto é a loucura da arte”. Fui à procura deste livro
e, como aconteceu com os restantes, devorei-o palavra por palavra. É um texto que podia, de certa forma, ter
sido escrito ontem. Leio qualquer obra assinada por si como se tivesse sido
escrito para mim, lamento a ousadia. Ao mesmo tempo, percebi que a sua devoção
à Literatura e o seu temor pelas questões financeiras - sempre difíceis, sempre
actuais - o afastou de uma vida em pleno.
Com o livro de David Lodge aprendi muito e comecei a vê-lo, a si, caro
James, como outra personagem, se quiser mais próximo de John Marcher. Não
fiquei desapontada, não se preocupe. Apenas entendi melhor a sua forma de
estar. O alheamento face às coisas da vida, as coisas comuns. Descobri May
Bartram em Constance Fenimore Woolson. Não se ofenda. Não o culpabilizo pela
morte de Constance, mas julgo que só a sua amizade o poderia ter levado a
escrever a “Fera”. É um símbolo, uma metáfora da sua relação com Constance, não
é? Escusa de responder. Não sou a primeira a especular sobre a vossa amizade,
não serei a última.
Ao contrário do que antevia, o senhor é estudado e lido à exaustão. O que não
sucedeu então, vive-se agora.
Jorge
Luís Borges, um escritor que não teve ocasião de ler, compilou uma colecção de
literatura fantástica e dedicou um volume inteiro à sua obra. Chamou-lhe, como
um dos seus contos, “Os Amigos dos Amigos”. No prefácio desse volume, Borges
considera-o, caro James, tão grande quanto Kafka, Kipling ou Tolstoi. Diria
que, no mínimo, há um conforto neste sucesso póstumo porque a forma única de
observação da sociedade, os enredos que congeminou e toda a sua arte, a sua
paixão, deixam eco na história da Literatura.
Na minha primeira viagem a Veneza procurei a casa que Constance alugou, os
cafés que frequentaram, visitei a Academia e os Ticianos. Pensei muito em si.
Sei como gostava de Itália. Compreendo agora como fugiu a uma viagem para não
se confrontar com a sua amiga. Tenho procurado as obras dela, especialmente
“Anne” de 1880, mas sem qualquer sucesso. Talvez não tenha pesquisado com o
afinco devido. Confesso-lhe a minha imensa curiosidade. Não o acuso de inveja,
já que ela teve algum êxito e vendas significativas numa época em que o senhor
sofreu diferentes golpes terríveis. Não lhe escrevo para defender Constance.
Contudo, depois de entender a relação que mantiveram ao longo dos anos, o facto
de nenhum dos dois ter casado, e do senhor ter queimado a correspondência que
trocou com ela, obrigando-a ao mesmo gesto, acredito que a “Fera” possa ter
outro significado. Quer isto dizer que o senhor foi incapaz de amar? A paixão
que o tomou foi a da Literatura e por ela abdicou de tudo o mais. Estou certa?
Mais uma vez, não precisa de me responder.
Aguça
a minha curiosidade o facto de saber que se encarregou a tempo de fazer
desaparecer provas e pistas sobre a sua vida, a sua intimidade. Receava o quê?
O escrutínio público e a devassa que tanto afectaram o seu contemporâneo e
suposto rival, Oscar Wilde? Duvido. Estou convicta de que a sua personalidade
assentava numa ideia de representação ou, se preferir, de efabulação da
realidade, sem se confundir com as suas personagens, resguardando-se numa
imagem discreta, elegante, sem ser sinuosa. Faz-me lembrar uma lição de outros
tempos em que era pequenina: disse-me, então, o meu tio-avô, seu devoto, que
nunca temos a percepção do que somos porque só nos vemos ao espelho. Só os
outros é que nos vêem como somos, vêem as nossas acções, os nossos gestos,
percebem a nossa linguagem corporal antes de nós. São os nossos olhos. A esta luz, pergunto-me
se o senhor não quereria o sucesso literário, o reconhecimento público, o
respectivo encaixe financeiro e ainda, e sempre, uma imagem de algum mistério.
Ficaram famosas as suas queimadas, milhares de documentos que hoje fariam com
que o fio da sua história fosse possível de percorrer. Estamos no fio de arame,
sem rede, no domínio da especulação, até certo ponto. É pena, garanto-lhe.
Não se preocupou com a efemeridade da sua obra e - deixe-me dizer-lhe - fez
mal. Restam-nos os vinte romances que escreveu, cento e doze contos, doze peças
de teatro e, ainda, alguns artigos de crítica literária. É pouco, terá de
concordar. Por outro lado, a sua aposta alta na Literatura rendeu. Antes
de morrer, sem condições de tal cerimónia, foi-lhe entregue a Medalha de Ordem
de Mérito de Sua Majestade. Estou certa de que se a lucidez permitisse, o gesto
seria uma espécie de conclusão e conquista final. O senhor, caro James, não
passou impune neste mundo. Quem sabe se passará nesse onde agora está. Como me
disse uma vez Agustina Bessa-Luís, uma escritora portuguesa que acredita ser
mais conhecida do que lida, daqui lhe mando um aceno de cabeça e lhe agradeço a
gentileza de ter escrito para mim. Egoisticamente é o que me ocorre. Espero que
não me leve a mal.
Cumprimentos
Patrícia Reis
21 de Março de 2010

 “Entendi
este convite como um desafio, não para falar sobre o livro ou livros que mais
gostei de ler ao longo da vida, esses foram muitos e variados consoante a idade
e o estado de espírito, mas para falar de um livro, “o livro” do qual retirei
algum ensinamento importante. Aprendi a ler muito cedo, o português em casa,
com a minha mãe, que era uma ávida leitora e carregava sempre uma mala com
livros para onde quer que o destino a levasse. Foi talvez com uma idade
demasiado juvenil que li várias obras, romances clássicos do século XX, nessa
idade em que o nosso espírito observa e absorve como um mata-borrão; e assim se
abriu nas minhas mãos “O Fio da Navalha”! Por entre a escrita bem torneada de
Somerset Maugham, com as suas meticulosas descrições de uma época e sociedade
bonne vivante, personagens marcantes pelas melhores e piores razões, um amor
recalcado e tortuoso, vislumbrei um raio de luz que haveria de me alumiar por anos
vindouros: que era possível viver fora de padrões estabelecidos, de
comportamentos expectáveis, de exigências sociais. “Larry”, o personagem
central do romance, “contenta-se em levar a vida que escolheu e em ser apenas
igual a si próprio”. Mas o verdadeiro ensinamento é que nós não podemos vestir
as nossas escolhas e deixar a etiqueta do preço agarrada; ela tem de ser
arrancada e temos de estar preparados para pagar o custo das nossas decisões.”
“Entendi
este convite como um desafio, não para falar sobre o livro ou livros que mais
gostei de ler ao longo da vida, esses foram muitos e variados consoante a idade
e o estado de espírito, mas para falar de um livro, “o livro” do qual retirei
algum ensinamento importante. Aprendi a ler muito cedo, o português em casa,
com a minha mãe, que era uma ávida leitora e carregava sempre uma mala com
livros para onde quer que o destino a levasse. Foi talvez com uma idade
demasiado juvenil que li várias obras, romances clássicos do século XX, nessa
idade em que o nosso espírito observa e absorve como um mata-borrão; e assim se
abriu nas minhas mãos “O Fio da Navalha”! Por entre a escrita bem torneada de
Somerset Maugham, com as suas meticulosas descrições de uma época e sociedade
bonne vivante, personagens marcantes pelas melhores e piores razões, um amor
recalcado e tortuoso, vislumbrei um raio de luz que haveria de me alumiar por anos
vindouros: que era possível viver fora de padrões estabelecidos, de
comportamentos expectáveis, de exigências sociais. “Larry”, o personagem
central do romance, “contenta-se em levar a vida que escolheu e em ser apenas
igual a si próprio”. Mas o verdadeiro ensinamento é que nós não podemos vestir
as nossas escolhas e deixar a etiqueta do preço agarrada; ela tem de ser
arrancada e temos de estar preparados para pagar o custo das nossas decisões.”





































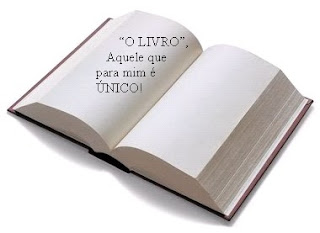












.JPG)





.webp)












